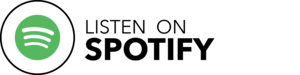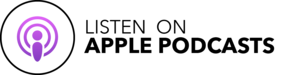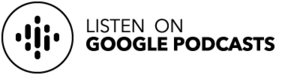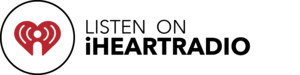Direito e Literatura: máquinas como nós?
O processo de humanização das máquinas passa forçosamente pelo crivo do Direito

Por: Jocê Rodrigues
Eles estão entre nós já faz um tempo. Seja na forma de assistentes pessoais eletrônicos ou de algoritmos que aprendem nossos gostos e nos oferecem aquilo que somos e aquilo que queremos, os robôs fazem parte da nossa vida cotidiana. E não é só. Passo a passo, estamos caminhando em direção a uma difícil questão: um dia poderemos considerar uma máquina como um de nós?
Esqueçam as máquinas de aparência humanóide, que andam, voam, atiram e viajam no tempo. No exato ponto em que estamos, damos de frente com uma realidade que destoa dos clichês dos anos 80/90 do cinema Hollywoodiano. Hoje, se quisermos entender as mudanças proporcionadas pelas máquinas em nossas vidas, precisamos pensar mais Her e menos Exterminador do Futuro.
Segundo David J. Gunkel[1], a ficção científica desenhou a robótica muito antes que qualquer engenheiro dedicado o fizesse. O termo “robô”, foi utilizado pela primeira vez em 1920, na peça Rossumovi Univerzální Roboti, do escritor tcheco Karel Čapek. É interessante notar que, em países de língua eslava, a palavra robota designa servidão ou trabalho forçado. Um jogo de palavras que nem o próprio Čapek poderia imaginar que se encaixaria tão bem com o futuro.
É importante observar o fato de que este papel de trabalhadores forçados começa a ser questionado em diversas instâncias. Uma delas é justamente a da criação artística, aludida no clássico O Homem Bicentenário, publicado por Isaac Asimov em 1976 e que chegou às telas do cinema em 1999, pelas mãos do diretor Chris Columbus.
O enredo conta a história de Andrew, um robô doméstico com cérebro positrônico (termo cunhado por Asimov) em busca de humanidade. Ou melhor, em busca do reconhecimento de sua humanidade. A fonte desse desejo não é discutida. Não sabemos se ele é resultado de uma falha operacional ou de um erro de cálculo que desenvolveu um tipo de inteligência bastante superior ao esperado pelos criadores do android.
Andrew começa a construir pequenos entalhes de madeira, que ao longo do tempo vão se tornando mais detalhados e com desenhos mais complexos. No início, o dono de Andrew, que ele chama de patrão, é quem presta atenção nesse “desvio” de conduta. Ele se impressiona com as criações do robô e o incentiva para que as peças sejam vendidas como obras de arte.
Inclusive, faz questão de que o dinheiro seja todo revertido para Andrew, que ganha uma conta própria no banco, para que guarde o dinheiro feito com a venda das obras. Fato inédito para o que deveria ser um simples robô doméstico.
Este acontecimento nos leva a um interessante debate: a criatividade é uma faculdade de exclusividade humana? Em que momento uma máquina ou um sistema operacional passaria a ser considerado uma pessoa?
Eu sei, é difícil dizer em poucas linhas. É quase a mesma coisa que perguntar, por exemplo, a partir de que momento um embrião pode ser considerado uma pessoa. São questões capazes de causar enxaquecas das mais atrozes.
O processo de humanização das máquinas passa forçosamente pelo crivo do Direito. E é justamente por ele que o robô Andrew inicia o seu trajeto na busca por reconhecimento como ser humano. Ainda que ele esteja preso às três leis da robótica[2], ele já se encontra num caminho incontornável.
Quando Andrew é levado pela primeira vez ao tribunal, vai com o intuito de conseguir a sua liberdade, o direito de não ser mais considerado como propriedade de ninguém. Atitude corajosa, que acabou por suscitar desconfortável debate entre aqueles a quem desejava se igualar.
“A palavra ‘liberdade’ perde todo sentido quando aplicada a um robô. Só os seres humanos podem ser livres”, foi o argumento do promotor que representava os interesses da classe que se opunha à concessão da liberdade de Andrew.
“Afirmaram aqui mesmo, neste tribunal, que só o ser humano pode ser livre. A mim me parece que só alguém que quisesse a liberdade deveria ser livre. E eu quero”. Com essa declaração, Andrew consegue convencer o juiz, que determina então que “ninguém tem o direito de recusar liberdade a qualquer criatura de inteligência suficientemente desenvolvida a ponto de compreender o conceito e desejar essa condição”.
Na trama, além de artista visual, Andrew tornou-se escritor e cientista, com invenções devidamente patenteadas. Durante gerações ele perseguiu incansavelmente o status de ser humano, enfrentando todas as barreiras, sempre com muita paciência e perseverança.
Primeiro, a liberdade, depois, as vestimentas e a construção de um corpo capaz de respirar e de comer. Suas ações foram responsáveis pela determinação do princípio dos direitos robóticos e levaram a revoluções impensáveis até então.
Depois de preencher praticamente todos os requisitos, faltava ainda um. Aquele que os homens continuam a temer e para o qual não têm remédio: a morte. O direito de morrer foi o último passo para que a humanidade de Andrew fosse considerada completa.
“A humanidade pode tolerar um robô imortal, porque pouco importa quanto tempo a máquina dure, mas não pode tolerar um homem imortal, uma vez que a própria mortalidade só é sustentável na medida em que for geral. E por esse motivo não concordam com minha exigência de me tornar humano”, pondera sabiamente Andrew em outro trecho.
Enquanto este icônico personagem, criado por uma das mentes mais brilhantes da humanidade, lutou até às últimas consequências para validar o direito de se tornar um de nós, cada vez mais ansiamos pela imortalidade, abrindo mão daquilo que nos torna humanos: a nossa imperfeição.
O futuro das relações entre homens, máquinas e o direito fora da ficção ainda permanece uma incógnita; mas graças a obras como esta, é possível seguir imaginando o real.
No fim, é como diz aquela velha máxima: “quem só sabe Direito, sequer Direito sabe”.
[1] Ver David Gunkel, Robot Rights. Cambridge: MIT Press, 2018.
[2] A saber, as três leis da robótica criadas por Asimov são: 1) um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal; 2) os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei; e 3) um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores.
* Publicado originalmente no JOTA.
Posts recentes
Escute o Indicíario