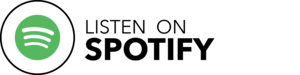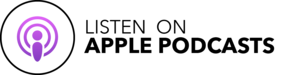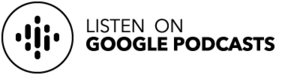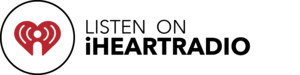A imaginação no banco dos réus: do direito à ficção às ficções do Direito
É gritante a falta de contato do mínimo conhecimento literário por parte dos operadores do Direito

Por: Jocê Rodrigues
A ficção nos permite imaginar muito além da vida cotidiana e expande o mundo à nossa volta. Ela nos alça a patamares impossíveis e torna possível a busca por aquilo que ainda não conhecemos. Criar é, portanto, imaginar além dos limites; é um escalar de muros e montanhas que tentam demarcar as fronteiras da existência. Sem imaginação, não há humanidade possível.
O historiador israelense Yuval Noah Harari, autor dos aclamados Sapiens e Homo Deus, defende que a razão pela qual nossa espécie é tão poderosa não pode ser encontrada em um nível individual, mas na habilidade de cooperar e de nos juntarmos em tornos de propósitos em comum. Tamanha habilidade só foi possível através de uma revolução cognitiva, que permitiu que criássemos narrativas e histórias que nos conectam. Em outras palavras: as ficções também foram responsáveis por conduzir a evolução humana ao patamar atual.
Juntamente com a palavra, a literatura é uma das mais antigas formas de se transmitir imaginação. Nas histórias de tradição oral, e posteriormente nas histórias escritas, encontramos as primeiras grandes ficções, responsáveis por moldar culturas e comportamentos. Através delas, ideais e narrativas foram passadas de geração para geração. Com elas se instauram também as leis, que primeiro tinham como fonte os preceitos religiosos, fixados por relatos sobre o certo e errado, sobre o bem e o mal.
Desta forma, direito e ficção encontram-se entrelaçados há mais tempo do que podemos contar. Uma relação que foi se intensificando na medida em que aumentava a complexidade das relações sociais e com o surgimento de novas formas de contar histórias (rádio, cinema, televisão, entre outros). Mesmo assim, a literatura seguiu por muito tempo em posição importante perante os demais meios. É inegável a força que os clássicos literários exercem diante de outros recursos narrativos.
Nesta perspectiva, os estudos que visam a análise das relações entre direito e literatura tratam, fundamentalmente, da dinâmica entre duas áreas que foram cuidadosamente cultivadas pelas sementes da ficção.
REALIDADE SEM FRONTEIRAS
Se há um gênero que representa bem aquilo que muitos convencionam chamar de pós-modernidade, este gênero é a autoficção, que acabou por se tornar tendência na literatura mundial. O termo foi criado em 1977 pelo escritor e professor francês Serge Doubrovsky, quando estampou o conceito de autoficção na capa de seu romance Fils. Sua intenção era diferenciar o seu trabalho daquilo que já era conhecido como romance autobiográfico.
Previamente, Philippe Lejeune já se dedicava a estudar a autobiografia como estilo literário e suas pesquisas se transformaram em balizas importantes para o trabalho de Doubrovsky, que afirmava ser a autoficção algo bem distinto. Segundo ele, a autoficção faz ficção de fatos e acontecimentos reais, traz unidade entre autor, narrador e personagem e é “pacientemente onanista”. Uma aventura de linguagem onde a vida do autor não é apenas descrita, mas também interpretada e recriada.
Um exemplo interessante de autoficção pode ser encontrado em Descobri que Estava Morto (2015), do escritor carioca João Paulo Cuenca, que fala de quando o autor descobriu, em 2008, que alguém havia usado a sua certidão de nascimento para atestar a morte de outra pessoa, o que o tornou uma espécie de morto-vivo. O processo para descobrir quem foi o homem que morreu em seu lugar é relatado também no filme A Morte de JP Cuenca, lançado no mesmo ano do livro que, aliás, foi o quarto mais vendido na Flip (Festa Literária de Paraty), um dos maiores eventos literários do mundo.
Em alguns casos, a descrição de detalhes reais pode trazer problemas frente ao direito, normalmente quando bate de frente com o direito à privacidade de outras pessoas envolvidas. Um exemplo desse choque pode ser visto no famoso caso da francesa Camille Laurens, que escreveu detalhes minuciosos e “desagradáveis” sobre o seu divórcio em L’Amour, Roman (2003). A autora foi processada por seu ex-marido, que teve seu nome divulgado no livro, mas venceu a peleja. Alguns anos antes, Laurens havia publicado Philippe, outra obra de autoficção, na qual fala sobre a dolorosa e traumática experiência de perder um filho recém-nascido.
O cultuado escritor dinamarquês Karl Ove Knausgård causou alvoroço quando publicou o primeiro livro da série Minha Luta, a retratar de forma quase cruel os aspectos mais importantes e marcantes da sua vida. Junto com o estrondoso sucesso de público e crítica vieram diversas represálias, ameaças de morte e processos judiciais por parte das pessoas que também tiveram suas vidas expostas ao longo dos seis volumes.
Amigos, colegas e familiares, as pancadas vieram de todos os lados. Problemas que foram superados a duras penas, mas que não impediram que ele continuasse o seu projeto de expôr as feridas de uma vida que Knausgård trabalhou duro para reinventar.
O GRANDE FINGIDOR
Talvez o maior representante deste tipo de literatura no Brasil seja Ricardo Lísias, que com seus experimentos e provocações literárias, já acumula algumas brigas judiciais. Quando lançou Divórcio (2013), Lísias colocou o leitor a par do drama vivido pelo narrador, que levava o seu nome, durante o processo de divórcio, desencadeado depois da leitura de trechos constrangedores do diário da então esposa do personagem.
Pouco depois do lançamento, a obra causou repercussão e polêmica por conta de certa confusão que os leitores fizeram ao não saberem de fato o que era vida pessoal e o que era ficção. Corria à boca pequena, por exemplo, que o autor, da mesma forma como ocorria no livro, foi processado pela ex-esposa, que tentava interromper a circulação do livro.
Boatos à parte, Lísias protagonizou estranhos e reais episódios de entraves com a justiça brasileira, que exibiram sérias falhas e lacunas no trato da mesma. Graças à imaginação de mentes como a dele, é possível perceber o quanto se faz urgente o contato de ala jurídica com a literatura, como no estapafúrdio caso em que a justiça brasileira quis intervir em um processo judicial fictício.
Em 2014, ele publicou um pequeno e-book com histórias da família de um tal Delegado Tobias, que estava a investigar a morte de um tal Ricardo Lísias. Como a obra trazia a reprodução de um documento criado pelo autor, foi aberto um inquérito a pedido do Ministério Público para averiguar uma suposta falsificação de documento público.
Ricardo, que não é bobo, fez da polêmica combustível para seu trabalho e explorou ainda mais as linhas tênues entre ficção e realidade, deixando o mundo do direito de pernas para o ar. Depois de lançar outro livro sobre o caso (Inquérito Policial: Família Tobias) e uma peça de teatro onde interpreta ele mesmo (Vou Com Meu Advogado Depor Sobre o Delegado Tobias), ele ainda arrumou tempo para espezinhar a elite política nacional e trazer à baila um debate público sobre o direito a ter um pseudônimo.
Não satisfeito com os estardalhaços anteriores, enfrentou Ricardo enfrentou outro processo em 2017. Desta vez, por ter usado o nome do então deputado federal Eduardo Cunha como pseudônimo para o livro Diário da Cadeia. Claro que o Cunha real não gostou nada disso e pediu o embargo do livro. Felizmente, Lísias saiu vitorioso de todos estes embates improváveis. No entanto, quando se pensa seriamente sobre o assunto, embora as decisões a favor da ficção gerem animação, não deixa de ser preocupante o fato de que ainda seja preciso se defender no mundo real por aquilo que acontece na ficção.
Nas sábias palavras do mestre Harold Bloom, a literatura de ficção é alteridade e, portanto, alivia a solidão”. Ainda segundo o mesmo Bloom, ler é também um ato de humildade, pois “sem perceber, frequentemente, lemos em busca de mentes mais originais que a nossa”.
Em tempos de supervalorização do eu, é gritante a falta de contato do mínimo conhecimento literário por parte dos operadores do direito que perseguem autores e obras ficcionais, com base em morais capengas e leituras mal executadas, graças ao despreparo de uma educação nada humanista.
* Publicado originalmente no JOTA.
Posts recentes
Escute o Indicíario